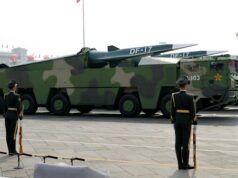Todo mês de janeiro, os americanos juram que este será o ano em que finalmente mudarão.
Perder peso. Conserte um relacionamento. Pare de procrastinar. Beba menos. Apareça mais.
E todo mês de fevereiro, a maioria dessas resoluções é silenciosamente abandonada.
O problema não é falta de conhecimento. As pessoas geralmente sabem exatamente o que querem mudar. O problema é a responsabilização. Cada vez mais, a linguagem emprestada da cultura terapêutica torna mais fácil parar de tentar e justificar a estagnação, em vez de forçar as pessoas a tolerar o desconforto e a fazer o trabalho árduo que a mudança exige.
Este não é apenas um problema de autoajuda. A mesma linguagem insinuou-se na forma como falamos sobre o comportamento na vida pública, com graves consequências.
Após o assassinato de Charlie Kirk, Montel Williams na CNN descreveu o suposto atirador, Tyler Robinson, como uma “criança dilacerada pelo amor”. ABC News referiu-se aos textos de despedida de Robinson como “comoventes”.
Quando Luigi Mangione alegadamente matou a tiro o CEO da UnitedHealthcare, a violência foi enquadrada como uma expressão de queixa. Em cada caso, a linguagem que deveria ter esclarecido os erros, em vez disso, suavizou-os, transformando a brutalidade numa história de dor incompreendida.
Essas palavras moldam o que as pessoas sentem. Chame um assassino de “despedaçado pelo amor” e a vítima praticamente desaparece.
Estes são exemplos extremos, mas revelam um padrão familiar.
O mesmo abrandamento da responsabilidade ocorre de forma mais silenciosa a cada mês de Janeiro, quando as pessoas abandonam as suas resoluções de Ano Novo.
“Reclamação” é a linguagem da política, onde a culpa aponta para cima.
Aplicada ao comportamento individual, a responsabilidade se perde.
Nem toda frase gentil é linguagem terapêutica. “Love-rasgado” é sentimental, não clínico.
Mas o que dá poder a essas palavras é a facilidade com que elas deslizam para uma forma terapêutica de pensar, explicando o comportamento destrutivo como dor e não como escolha.
Uma vez que o comportamento é enquadrado dessa forma, seja violência na vida pública ou falha no cumprimento de um objetivo, a responsabilidade desaparece.
Como psicoterapeuta, vejo esse padrão diariamente.
Exploro esta tendência com mais profundidade no meu próximo livro “Therapy Nation”, que analisa como a cultura terapêutica remodelou a responsabilidade, muitas vezes de formas que deixam as pessoas presas.
Palavras antes reservadas para condições psicológicas graves – narcisista, borderline, psicopata, trauma, TEPT – escaparam do consultório de terapia e se tornaram uma abreviação casual.
Um amigo que discorda agora é “tóxico”. Um namorado que fantasma é um “narcisista”. Uma semana difícil no trabalho torna-se um “trauma”.
Saudades da academia? Você estava “esgotado”.
Explodir um relacionamento? Você foi “desencadeado”.
Não segue adiante? Essa expectativa era “tóxica”.
A linguagem desculpava o fracasso. E essa diluição barateia as palavras e distorce o julgamento.
Se todo revés é um trauma e todo conflito é um abuso, o fracasso não exige mais esforço ou reflexão. Requer um diagnóstico.
Depois que as pessoas aprendem a narrar seus contratempos como lesões, em vez de escolhas, o progresso estagna.
Minha própria profissão tem alguma responsabilidade.
A terapia enfatiza corretamente a empatia e a validação.
Mas algures ao longo do caminho, a responsabilização tornou-se opcional.
A mídia e a política adotaram o mesmo roteiro, despojando-o de nuances e transformando-o em disfarce.
Palavras destinadas a esclarecer o comportamento agora o confundem.
Vi as consequências de perto.
Uma paciente insistiu que seu chefe a estava “iluminando” porque fazia críticas contundentes, mas justas.
O termo descrevia originalmente a manipulação psicológica deliberada com o objetivo de fazer alguém duvidar de sua sanidade. Hoje é aplicado ao desconforto comum.
Outro paciente desculpou-se por ficar perto da esposa e gritar até ela chorar, culpando uma infância difícil.
Seus terapeutas anteriores concordaram. Eu não.
O trauma pode explicar o comportamento, mas não pode desculpá-lo.
Manter essa distinção é responsabilidade da terapia. Quando não conseguimos fazer isso, as pessoas ficam presas.
A mesma tendência molda as políticas públicas.
Quando Cynthia Nixon e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez descreveram o furto em lojas como um ato de “necessidade”, a mensagem era inequívoca: roubar não é crime, mas desespero.
A partir daí, a lógica se desfaz. Roubar em lojas torna-se uma necessidade. A pilhagem se torna uma queixa. E a violência se torna dor.
O problema não é a compaixão. A verdadeira compaixão reconhece o sofrimento enquanto ainda insiste na responsabilidade. A linguagem terapêutica substitui cada vez mais a indulgência.
Se as dificuldades eliminam automaticamente a responsabilidade, quanto mais alguém sofre, menos responsável ele se torna.
Essa é uma das razões pelas quais as resoluções de Ano Novo falham.
A mudança é desconfortável por definição.
Requer moderação, consistência e tolerância à frustração sem patologizá-la.
A terapia nunca teve como objetivo transformar todo mau hábito em uma identidade ou diagnóstico. O objetivo era ajudar as pessoas a enfrentar a realidade e agir de maneira diferente.
À medida que o novo ano começa, os americanos não precisam de mais linguagem para se desculparem.
Eles precisam de uma linguagem que restaure a agência.
Você não falhou porque o esforço foi “desencadeador”. Você falhou porque mudar é difícil.
A disciplina é desconfortável.
A compaixão é importante.
Mas compaixão sem responsabilidade não melhora vidas.
E uma cultura que ensina as pessoas a explicar o seu comportamento em vez de assumi-lo continuará a confundir desculpas com o progresso, todos os meses de Janeiro, ano após ano.
Jonathan Alpert é psicoterapeuta na cidade de Nova York e Washington, DC.